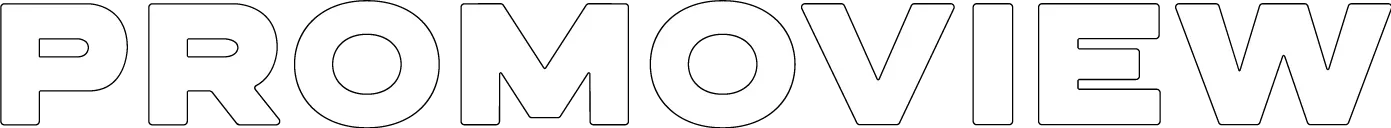Este-ano, vimos nascer uma polêmica nova em torno da Black Friday. Deixando um pouco de lado a questão dos descontos falsos ou verdadeiros, o debate se voltou a uma questão, digamos, linguística.
Isso porque, não se sabe com certeza o que motivou a data a ser chamada “Black Friday” – alguns afirmam que se originou de um evento de comércio de pessoas escravizadas que acontecia às sextas-feiras, quando aqueles que estavam mais debilitados eram vendidos por poucos tostões; outros especulam que as promoções da sexta-feira pós-Thanksgiving nos EUA eram usadas para deixar as contas no “black”, que em português dizemos “no azul”.
Nada disso, no entanto, pode se confirmar, já que nenhuma das “etimologias” tem registro histórico. Mas, voltando para o debate atual, creio que essa discussão vem do fato de que o mercado como um todo está sensível.
As empresas perceberam que usar a identidade étnico-racial negra pode ser positivo, melhorar a imagem da marca e até trazer algum lucro.

Porém-aviso: Só isso não é suficiente, há muitos “poréns” envolvidos na questão. A efetividade dessas manifestações, como trocar o nome da promoção para evitar a conotação racista, depende da percepção de quem consome, das pessoas protagonistas que gostam da marca, do produto, do serviço. Sempre temos que nos lembrar das pressões e direcionamentos que são orquestrados pela mídia.
Alterar o nome de uma ação comercial global em função da data tem de ser algo pensado, responsável e que ajude a repensar toda a estrutura comercial de vendas e atendimento ao cliente.
Não é recomendável usar isso de forma superficial, porque não fará a marca vender para pessoas que sempre foram invisibilizadas em sua identidade negra.
Quem consome sabe quais empresas cultivam em suas equipes, em suas ações, em sua cultura, em seus produtos e serviços, o respeito e a valorização das pessoas negras, portanto, trocar o nome da ação não mudará as escolhas de consumo de quem sofre o racismo diário.
Nesse sentido, “Não me vejo, não compro” é uma iniciativa de resistência às violências contínuas que sofremos, ao não sermos lembrados desde a concepção de um serviço ou produto até sua venda através da apresentação nas mídias e prateleiras.
As empresas precisam incorporar a presença negra em sua cultura, em seu cotidiano. Mudar a etiqueta não altera tudo que nos foi negado durante todo o restante do ano e nos períodos anteriores.
As atitudes que queremos são, sim, políticas afirmativas em relação à diversidade e igualdade, e algumas empresas já sabem disso, mas preferem tratar a questão como marketing.
O censo do IBGE mostra que 54% da população brasileira se autodeclara negra (pardos e pretos) e esse número vem aumentando significativamente.
Em paralelo, uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que a comunidade negra movimenta por ano R$ 1,7 trilhão. Aqui é importante resgatar a fala do escritor, compositor e estudioso de culturas africanas Nei Lopes sobre o aumento da presença de negros na mídia: “Tem mais a ver com consumo do que com representatividade.”
Portanto, as marcas e empresas precisam acolher a diversidade em suas estruturas antes de sair às ruas em manifesto. A representatividade vai além de estarmos na mídia e consumindo, ela está nos gestores e conselheiros negros que definem as estratégias da empresa, está nos fornecedores e parceiros que trabalham com políticas antirracistas, está na cadeia de vendas em que todas as pessoas são sensibilizadas continuamente a enfrentarem o próprio racismo.
Realizar um processo inclusivo da diversidade é mudar toda uma cultura. No MDI – Programa de Capacitação Mestre de Diversidade Inclusiva – pesquisamos e atuamos para reduzir as barreiras e construir pontes, por isso acredito que não devemos nomear ações afirmativas como, por exemplo, o programa de trainee do Magazine Luiza, de “briga”, e sim de “restituição” porque não podemos esperar mais 132 anos para usufruir dos direitos humanos que temos enquanto cidadãos, queremos e estamos nos organizando para acelerar esse processo, e as empresas aliadas são muito bem-vindas para somar, enquanto as oportunistas talvez precisem se contentar em não nos atender.
Assumir-se negro em um país racista tem muitos desdobramentos. Poderá não receber promoções se atuar no segmento corporativo, porque estará fora do padrão esperado de uma pessoa executiva.
Será alvo de batidas policiais e até de situações vexatórias como ter de esvaziar a bolsa ao sair de um estabelecimento menos consciente de ações antirracistas.
Sua cor e seu CEP precederão todas as suas certificações, habilidades e realizações. Será esperado dessa pessoa subalternidade e silêncio ante qualquer determinação que receber de pessoas não negras, não importa em qual ambiente esteja.
Então, quando perguntam sobre o consumidor negro estar mais exigente, digo que estamos cansados. Não queremos mais nos adaptar a produtos e serviços, queremos que sejam pensados para nos atender, valorizando quem somos, nossa ancestralidade, nossas raízes, nossas crenças e toda a cultura que nos compõe.
Como bem disse a pesquisadora Giselle Christina Santos (consultora em D&I) no painel “Eu não sou seu negro: construindo o antirracismo na pesquisa de mercado” da ASBPM: “Escolher usar uma touca de cetim não é capricho, é autocuidado, porque meu cabelo fica incrível por muito mais tempo.”
Então, produtos e serviços que nos consideram desde sua concepção com certeza precisam entender quem somos. Não é exigência, é direito.